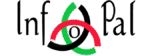La Luce.news. O 7 de outubro de 2023 não representou apenas uma ruptura militar ou geopolítica. Foi, antes de tudo, um acontecimento de fratura simbólica e política que abalou profundamente a arquitetura do consenso ocidental construída em torno de Israel e, de forma mais ampla, em torno da ordem colonial contemporânea.
Nos dois anos seguintes, enquanto Gaza era devastada por uma campanha que cada vez mais observadores, juristas e organismos internacionais definiram como genocida, aconteceu algo que até pouco tempo antes parecia impensável: a possibilidade de nomear publicamente aquilo que durante décadas permanecera indizível.
Israel passou a ser descrito abertamente como um Estado colonial e de apartheid; a resistência palestina voltou a ser discutida não apenas como “terrorismo”, mas como um fenômeno político enraizado numa história de ocupação e negação de direitos; a hipocrisia do Ocidente liberal, pronto a defender o direito internacional apenas quando isso não afeta os seus aliados, foi exposta em escala massiva. Esse deslocamento não envolveu apenas uma minoria militante, mas atravessou universidades, sindicatos, meios culturais, setores da opinião pública global e até partes das instituições multilaterais.
É aqui que se situa a verdadeira crise: não apenas da lobby sionista internacional, mas de todo o dispositivo ideológico que durante décadas sustentou a ordem ocidental. Porque a Palestina nunca foi uma questão periférica. Sempre foi o laboratório no qual se experimentou a compatibilidade entre colonialismo, democracia e direitos humanos. Quando esse laboratório entra em colapso, quando a exceção palestina se torna a prova do engano, todo o edifício entra em tensão.
Não surpreende, portanto, que a fase atual seja marcada por uma tentativa cada vez mais explícita de restauração.
A chamada “paz” promovida pela administração Trump insere-se exatamente nesse quadro. Uma paz que convive com a morte cotidiana de palestinos, com o cerco, com a destruição sistemática das condições materiais de vida, e que não questiona minimamente a expansão colonial israelense na Cisjordânia. Não é uma paz fundada na justiça, mas uma normalização forçada: a promessa de estabilidade em troca do esquecimento político.
Essa moldura oferece ao Ocidente e a Israel a oportunidade de tentar um reset. De trazer o discurso público de volta ao período anterior a 7 de outubro. De transformar a indignação em cansaço, a solidariedade em incômodo, a denúncia em problema de ordem pública. Mas, para que esse retorno seja possível, não basta um acordo diplomático: é necessário atingir aqueles que, nesses dois anos, ousaram romper o silêncio.
É nesse contexto que deve ser lida a renovada ofensiva contra a dissidência e contra o Islã político, declinada de formas diferentes, mas surpreendentemente convergentes, nos Estados Unidos, na França e na Itália. Nos EUA, alguns estados governados por republicanos tentaram classificar como terroristas organizações muçulmanas e de direitos civis que nada têm a ver com a violência armada, utilizando instrumentos administrativos para intimidar, isolar e tornar tóxico o ativismo pró-Palestina. Na França, o relatório ministerial sobre a Irmandade Muçulmana tornou-se o pretexto para relançar uma retórica securitária que atinge simultaneamente as comunidades muçulmanas e a esquerda política, acusada de “islamizar” o debate público. Em ambos os casos, o alvo real não é uma ameaça concreta, mas um espaço político que se abriu e que agora se quer fechar novamente.
A Itália insere-se plenamente nessa dinâmica. O retorno agressivo da retórica islamofóbica por parte da Liga, as declarações de Matteo Salvini contra mesquitas e associações islâmicas, a tentativa de subordinar a liberdade religiosa a critérios políticos e identitários, não são episódios propagandísticos ocasionais. São sinais de realinhamento. O Ministério do Interior, liderado por Matteo Piantedosi, atua nesse clima, em que segurança e ordem pública se tornam as categorias através das quais se lê qualquer forma de dissenso, sobretudo quando cruza Palestina e Islã.
O caso do imã Mohamed Shahin, em Turim, deve ser situado exatamente aqui. Não como um episódio isolado, mas como um sinal. Uma detenção administrativa, a transferência para um CPR, uma narrativa midiática construída sobre a periculosidade, a insinuação, a suspeita. Depois, quando o caso chega aos juízes, o castelo desmorona: a ausência de uma periculosidade concreta emerge claramente. Mas, entretanto, a mensagem já foi transmitida. É possível atingir mesmo sem crimes, intimidar mesmo sem provas, disciplinar o discurso por meio da exceção.
Nesse momento insere-se também o comportamento da UCOII. A organização trabalhou, com discrição, para obter a libertação de Shahin. Mas escolheu não assumir uma posição pública forte, não politizar o caso, não denunciar abertamente o seu caráter intimidatório. Uma escolha compreensível no plano tático, mas que, no plano político, corre o risco de aceitar o terreno da restauração: o da defensiva permanente, da legitimação buscada através do silêncio.
Essa ambiguidade torna-se ainda mais evidente se se observa o outro elemento: o encontro com Mahmoud Abbas. Abu Mazen é hoje uma figura profundamente desacreditada entre os palestinos. A Autoridade Nacional Palestina é percebida como um aparato que reprime a resistência, coopera no plano securitário com Israel e não opõe nenhuma resistência real ao avanço colonial. E, no entanto, justamente por isso, Abbas é funcional ao Ocidente e a Israel. É o palestino apresentável, o interlocutor que não incomoda, o rosto da “moderação” útil para neutralizar qualquer discurso radical.
O seu convite para Atreju, o festival da direita italiana, é um ato altamente simbólico. Serve ao governo para exibir uma falsa equidistância, enquanto na realidade armou o genocídio e, no terreno político e repressivo, atinge quem ousou solidarizar-se com a Palestina. Nesse quadro, o encontro da UCOII com Abu Mazen não é neutro: contribui, querendo ou não, para legitimar uma figura que encarna a restauração justamente no momento em que a criminalização do Islã e do dissenso volta a se intensificar.
Tudo isso não é a soma de erros ou coincidências. É um processo coerente. A “paz” que não interrompe a morte, a repressão das ruas, o retorno do enquadramento do terrorismo islâmico, a gestão administrativa do dissenso, a reabilitação de lideranças palestinas deslegitimadas: todos são elementos de uma mesma estratégia. Uma estratégia que visa apagar o efeito político do 7 de outubro.
Mas é precisamente essa tentativa de restauração que revela uma verdade fundamental: o consenso foi quebrado. E aquilo que foi visto não pode ser completamente desaprendido. A Palestina, hoje, não é apenas o lugar de um genocídio em curso. É o ponto em que se mede a própria possibilidade de contestar a ordem ocidental. Por isso, a batalha sobre a linguagem, sobre a legitimidade, sobre a criminalização não é secundária: é o terreno decisivo em que se joga o pós-7 de outubro.