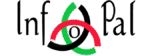Il Fatto Quotidiano – por Alessia Manera.
As investigações sobre pessoas e ativistas ligados à causa palestina, às quais se seguiram 9 prisões e buscas em toda a Itália no sábado, 27 de dezembro, trazem consigo algumas reflexões importantes, não tanto sobre o caso em si, mas sobre os pressupostos políticos e de direito internacional, em particular em relação a três elementos: a fonte das acusações, a história da ocupação e do genocídio na Palestina, e a autodeterminação dos processos de libertação.
As fontes das provas contra os detidos (entre eles Mohammad Hannoun, presidente da Associação Palestinos da Itália) provêm principalmente dos serviços secretos e de segurança israelenses. Em poucas palavras, a magistratura de um Estado soberano (ou que se presume que deveria ser) expediu mandados de prisão e de busca contra pessoas que teriam tido ligações econômicas com instituições beneficentes que, por sua vez, teriam ligações com o Hamas — e tudo isso com base nas acusações do mesmo Estado que está sendo investigado por crimes de guerra e genocídio pela ONU e pelo Tribunal Penal Internacional, e que tratou como terroristas — detendo ilegalmente, torturando e privando temporariamente de seus direitos — cidadãos internacionais (incluindo italianos) culpados de terem levado ajuda humanitária.
De acordo com essa lógica jurídica, que assume como válida a definição israelense de “terrorista”, qualquer um de nós que tenha participado de manifestações de rua contra o genocídio ou organizado um jantar para apoiar as despesas da Flotilha poderia legitimamente esperar uma visita da divisão antiterrorismo? Uma perspectiva não tão distante, visto que, de um amplo espectro político, estão chegando propostas de lei (uma assinada por Gasparri e outra por Delrio) que equiparam o antissionismo (e, portanto, a crítica às políticas colonialistas de Israel e de seus governos) ao antissemitismo, seguindo o exemplo do que já acontece no Reino Unido (onde apoiar a Palestine Action leva a acusações de terrorismo — enquanto apoiar o genocídio não).
Mas mesmo admitindo que as acusações se revelem corretas, que as associações beneficentes que receberam os fundos sejam realmente ligadas ao Hamas — qual é a conexão direta com o terrorismo?
O Hamas nasce como um movimento social religioso nos anos 1980, após a Primeira Intifada, financiado e apoiado pelo próprio Israel e pelo eixo anglo-saxão (Reino Unido e Estados Unidos), com o objetivo de criar uma ruptura dentro da sociedade e da política palestina, tradicionalmente laicas e socialistas. Aliás, esses mesmos países financiaram, naquele período (e pelos 30 anos seguintes), a Irmandade Muçulmana, a Al Qaeda e todos os movimentos integristas sunitas em chave antisoviética e anti-laica/socialista/pan-arabista.
O Hamas, portanto, inseriu-se desde o início em um projeto ocidental de desestabilização, a fim de continuar exercendo o poder colonial ocidental através de Israel, que, por sua vez, configurou-se desde a sua criação como parte integrante do Ocidente e como experimento de uma nova forma de colonialismo e supremacismo.
Quando, após o fracasso dos Acordos de Oslo e a Segunda Intifada, o Hamas vence esmagadoramente as eleições de 2006, isso ocorre sobretudo porque a ANP havia perdido credibilidade — como já estava previsto no plano israelense desde o início — e vence sob o olhar dos observadores da ONU, que confirmaram a legitimidade e validade do voto.
Imediatamente, porém, o Ocidente deslegitima essa mesma eleição e Israel (sob o governo Olmert, convidado pelo PD à sua festa nacional há poucos meses como “homem de paz”) inicia o cerco total à Faixa de Gaza, que continua até hoje, 19 anos depois.
O Hamas é, portanto, em primeira instância (e fundamentalmente para a maior parte dos países da Assembleia Geral da ONU, excluindo os ocidentais) uma organização política, da qual algumas partes levam adiante a luta armada: pode-se gostar ou não, mas ela reflete a subjetividade histórica e política de um povo, é parte do seu processo de libertação.
Quem somos nós para julgar esse processo, sobretudo quando as contradições que o atravessam encontram grande parte de suas responsabilidades nas ingerências ocidentais e coloniais? Quão supremacista e colonial (mesmo que de um supremacismo “humanitário” e voltado aos direitos) é julgar os processos políticos e sociais de outros povos com base no que hoje estamos dispostos a aceitar em nossas próprias casas? Porque devemos lembrar que o direito internacional — que nasce da libertação e dos processos de descolonização — reconhece o direito à resistência (inclusive armada) diante de um ocupante.
A questão não pode ser colocada nos termos de “pró-Hamas” ou “anti-Hamas”. A questão é: somos ou não somos a favor da autodeterminação dos povos, princípio consagrado no direito internacional e na nossa Constituição? Somos ou não somos a favor do direito internacional, contra toda forma de genocídio e limpeza étnica? Porque, se a resposta a essas perguntas for “sim”, deveria sentar-se no banco dos réus quem continuou financiando e armando um Estado acusado de genocídio, ou quem definiu o direito internacional como “algo que vale só até certo ponto”. E isso deveria nos levar a perguntar, mais uma vez, de que lado da História queremos estar.