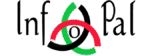Notizie Quds – Por David Harest
Conheço Melanie Phillips há muito tempo. De fato, em certo momento ela foi minha editora na editoria nacional do Il Guardian.
Por mais estranho que pareça hoje, a Phillips daquela época representava a típica liberal atormentada do norte de Londres, existencialmente dividida entre seguir o coração ou a razão.
Phillips não é a única ex-colega do Guardian que fez a viagem da suave esquerda liberal para a dura direita islamofóbica, passando de uma figura à la Ed Miliband para outra à la Michael Gove. Mas, ao contrário de alguns que eu poderia citar, essa transição teve muito pouco a ver com dinheiro.
Phillips acreditava que esse caminho a ajudaria a servir melhor a causa de Israel, que, segundo ela, está hoje mais ameaçado do que nunca.
Para ela, a ideia atual de Israel é muito diferente daquela que defendia no Guardian, jornal onde se sentia totalmente em casa. O diário sempre foi um jornal sionista.
O ex-diretor mais importante do Guardian, C.P. Scott, foi a primeira grande figura da imprensa britânica do início do século XX a apoiar o sionismo de Chaim Weizmann — aliança que abriu caminho para a Declaração Balfour de 1917.
Mas Phillips foi muito além dos limites do sionismo liberal. Recentemente, fez uma descrição emotiva do que considera estar em jogo, numa conferência em Nova York intitulada “Rage Against the Hate”.
Todo o “ódio” parecia vir do palco, mas, claro, nenhuma ironia estava prevista no título.
Phillips declarou que era hora de revelar “algumas verdades inconvenientes”. Esse tipo de introdução costuma ser o prenúncio de um desastre de relações públicas para os defensores de Israel — e foi exatamente no que o discurso se transformou.
Guerra religiosa
Em pleno estilo Putin, Phillips afirmou que não existia algo chamado Palestina ou palestinos. Para ela, os únicos povos indígenas eram os judeus — os únicos com qualquer direito histórico, legal ou moral sobre aquela terra.
Dizer isso enquanto ativistas no Reino Unido são presos por gritar “from the river to the sea” como suposto slogan pró-Hamas oferece à defesa jurídica uma saída evidente.
Porque o que Phillips defende é que toda a terra “do rio ao mar” é judaica. E, como ela sabe — mas aparentemente o Ministério Público britânico não — “from the river to the sea” é política oficial do Likud desde 1977.
Para Phillips, a supremacia judaica é grande demais para ser limitada a fronteiras nacionais. Ela atravessa também fronteiras religiosas.
A jornalista descreveu o cristianismo como uma seita judaica que “saiu um pouco do controle”, arrancando risadas do público, e sugeriu que todos os valores essenciais do Ocidente eram, na verdade, judeus.
Definiu o Islã como um “culto da morte”. E disse: “Ao adotar a linguagem e a inversão moral da causa palestina, o Ocidente comprou a agenda da sua própria destruição pelas mãos do Islã. Este é um desejo de morte por parte do Ocidente — e se você tem desejo de morte, não pode lutar contra um culto da morte, que é o que o Ocidente enfrenta nas forças do Islã.”
Para Phillips, uma guerra permanente entre sete milhões de israelenses e 450 milhões de árabes, mais 92 milhões de iranianos, ainda não é grande o suficiente.
Assim como o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben Gvir ou o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, Phillips quer transformar um conflito essencialmente territorial em uma guerra religiosa global — enfrentando, no processo, dois bilhões de muçulmanos.
A única verdade
Foi quando ela se voltou para os judeus da diáspora que o castelo de cartas realmente desmoronou. Segurar um bisturi tão grande contra o próprio cordão umbilical do qual Israel depende exige audácia — mesmo de Phillips.
Ela lembrou aos judeus da diáspora que sua primeira lealdade deve ser para Israel. Afirmou que eles não são simplesmente americanos ou britânicos que “também são judeus”, mas parte da “nação judaica” — e que isso deve vir antes de tudo.
Segundo Phillips, os judeus da diáspora são fracos, conciliadores demais, obcecados demais com a opinião pública global, e “talmúdicos” — termo que ela usa para dizer “defensivos demais”.
E Israel não deve mais se limitar a “cortar a grama” — eufemismo para as guerras israelenses que mataram dezenas de milhares de civis palestinos — mas arar a terra completamente.
Ela declarou que chegou a hora dos judeus passarem ao ataque; de reivindicarem o Tanakh, cheio de histórias de antigos judeus “que travavam batalhas reais e matavam pessoas reais”.
A guerra em Gaza seria, então, nada menos que a ressurreição do judeu do Tanakh, o retorno do guerreiro davídico.
Com isso, fica evidente que o genocídio israelense em Gaza não é — como o governo afirma — uma guerra justa de autodefesa após 7 de outubro de 2023, mas sim o renascimento de uma profecia bíblica.
Ao arrancar a última folha de figueira que escondia o objetivo do sionismo, as “verdades inconvenientes” de Phillips revelam uma única verdade difícil de negar: Israel será, doravante, um Estado em guerra permanente.
E é justamente essa mensagem que os palestinos querem que os nova-iorquinos escutem.
Falsos cessar-fogos
Por décadas, liberais alimentaram-se dos mitos israelenses — sobretudo o de que Israel estaria em paz se encontrasse palestinos moderados para negociar.
Agora, é dito exatamente o contrário: que o destino bíblico de Israel é reconquistar uma terra que vai muito além das suas fronteiras atuais, porque toda ela lhe pertence, dada diretamente por Deus.
Discursos assim já alienaram democratas. Mas é na ala cristã isolacionista da base MAGA de Trump que Israel pode enfrentar seu maior problema.
Esse grupo não tem qualquer simpatia especial pelos palestinos. Mas entende perfeitamente que um Israel messiânico e permanentemente em guerra significa uma América permanentemente em guerra, com soldados americanos presos para sempre no Oriente Médio.
Com declarações assim, Phillips e seus semelhantes garantirão que o declínio do apoio a Israel entre judeus norte-americanos chegue a um ângulo de 90 graus. Por essa razão, eu a incentivaria, sinceramente, a continuar falando.
Nada disso é novidade para palestinos, libaneses e sírios, que vivem essa “guerra permanente” diariamente desde o chamado cessar-fogo.
Mais de 300 palestinos foram mortos em cerca de 500 violações do cessar-fogo de Gaza. O modelo repete o do Líbano, onde Hezbollah se retirou e desarmou ao sul do rio Litani, apenas para ver Israel permanecer em postos avançados e continuar bombardeando o país — matando mais de 300 pessoas e ferindo mais de 900 no último ano, segundo o Ministério da Saúde libanês.
E as exigências israelenses só aumentam.
No domingo, Israel voltou a atingir altos líderes do Hezbollah, assassinando Haytham Ali Tabatabai, chefe do Estado-Maior da organização, em ataque claramente destinado a provocar uma resposta.
O cessar-fogo só é considerado cessar-fogo porque Hamas e Hezbollah não responderam aos ataques. No momento em que o fizerem, a imprensa ocidental, em uníssono, anunciará que “o cessar-fogo foi quebrado”.
Invasão não provocada
No sul da Síria, onde Israel tomou um território do tamanho de Gaza, sem que nenhum míssil ou tiro tivesse sido disparado do outro lado da fronteira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma parada vitoriosa com seus ministros.
Sua presença em território soberano sírio selou o fim das negociações com o novo governo de Damasco — negociações que já estavam estagnadas.
Fontes próximas às conversas afirmam que Israel exigia não apenas passagem segura para Sweida, mas também acesso militar permanente ao norte curdo, além do direito de inspecionar e vetar todas as armas adquiridas pela Síria.
Netanyahu advertiu que, mesmo com as bases israelenses já construídas em solo sírio — uma delas a apenas 25 km de Damasco — isso pode não ser suficiente:
“Esta é uma missão que pode evoluir a qualquer momento.”
A invasão israelense da Síria, sem provocação, é a forma mais rápida de garantir que o norte de Israel seja atacado no futuro por uma ampla gama de grupos islamistas radicais.
Se Netanyahu conseguir derrubar o governo apoiado pelos EUA de Ahmed al-Sharaa, e tornar impossível um governo central num país fraturado, o vácuo será preenchido por grupos dispostos a levar a guerra até Israel.
Além de desestabilizar a Síria e dificultar qualquer governo pós-Assad, a aventura militar israelense prepara o terreno para um novo ataque ao Irã.
Teerã espera esse ataque, e desta vez não será enganado por supostas “negociações de paz” com os EUA.
Conflito em expansão
Fontes iranianas descrevem a postura do país como defensiva durante os 12 dias de guerra após ataques israelenses e americanos em junho passado. Na próxima guerra, dizem, o Irã partirá para o ataque.
Principalmente contra países que hoje servem de plataforma para drones e vigilância: Azerbaijão ao norte e Emirados Árabes Unidos no Golfo.
Uma fonte de alto escalão afirmou:
“Quando Israel iniciar a próxima fase desta guerra, o Irã responderá. E o conflito se estenderá ao Golfo e à região. Os Emirados e o Azerbaijão, que traem a região, pagarão um preço enorme.”
E essa não é uma ameaça vazia, os Emirados sabem disso.
Nem o Irã nem os grupos de resistência que Israel afirma ter derrotado se consideram derrotados. Reconhecem perdas táticas, especialmente quando Israel eliminou suas lideranças repetidamente. Mas todos estão se rearmando rapidamente.
Hamas, por exemplo — proibido no Reino Unido — está mais popular do que nunca na região.
Uma pesquisa recente do Palestinian Center for Policy and Survey Research indica que, se houvesse eleições hoje, 65% votariam, sendo 44% para o Hamas e 30% para o Fatah; e 70% rejeitam o desarmamento do Hamas.
Isso porque esta geração aprendeu as lições de 1948, 1967 e da saída humilhante de Arafat de Beirute em 1982.
Uma resolução vazia
A segunda fase do “cessar-fogo” em Gaza — após Hamas entregar todos os reféns vivos e mortos sob seu controle — está tão travada quanto a primeira.
Nenhum país árabe ou muçulmano aceita enviar tropas para a proposta Força Internacional de Estabilização sem mandato claro ou caminho para o Estado palestino.
Azerbaijão só aceitaria se a Turquia também participasse.
O rei Abdullah da Jordânia rejeitou participar:
“Manutenção de paz significa apoiar a polícia local palestina, que Jordânia e Egito podem treinar, mas isso leva tempo. Se tivermos de patrulhar Gaza armados, nenhum país quer isso.”
O mesmo vale para Emirados, Egito e Indonésia.
Diante disso, os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff recorreram até a Singapura, que ficou surpresa com o pedido.
A proposta de um “Board of Peace” também não avança: não se sabe quem o compõe, de onde virá o financiamento, e nenhum governo palestino foi formado.
A resolução da ONU que criou tudo isso não tem plano, dinheiro, compromissos nem pessoal. Entre as inúmeras resoluções vazias aprovadas sobre este conflito, esta é a mais vazia.
Se isto é o que conta como “paz”, é insustentável.
Mais cedo ou mais tarde, provavelmente por motivos eleitorais, Netanyahu tentará “concluir o trabalho”, depois de dois anos de guerra em que fracassou em fazê-lo.
Phillips, por sua vez, estará entusiasmada, enquanto mais sangue for derramado. Sua retórica islamofóbica não impedirá convites da BBC para programas como Question Time ou Moral Maze. Ninguém ousará contestar seu fanatismo.
Phillips está certa em uma coisa: o Ocidente, com a BBC inclusa, afunda — mas afunda porque tolera e legitima vozes como a dela.